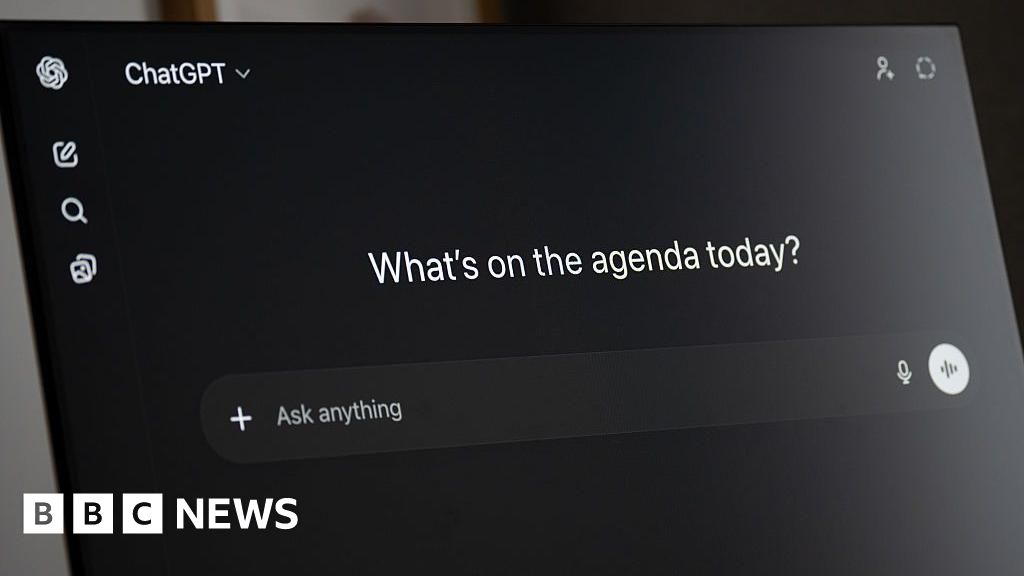‘1975: O Ano do Colapso’ revisita a crise que redefiniu o cinema americano

Alguns anos não passam. Permanecem. 1975 é um deles. Não porque tenha sido excepcionalmente violento ou espetacular, mas porque foi silenciosamente corrosivo. Um ano em que as certezas começaram a ruir sem alarde, como um edifício que range por dentro antes de desabar. Assistir a 1975: O Ano do Colapso é perceber que aquele colapso não ficou no passado. Ele apenas mudou de forma.O documentário parte de um recorte preciso: os Estados Unidos no pós-Vietnã, atônitos diante do fracasso militar, desconfiados de suas próprias instituições após o caso Watergate, economicamente fatigados e culturalmente desnorteados. Não havia mais epopeia possível. A promessa de grandeza tornara-se um discurso cansado. O país que se via como farol começava a perceber a própria sombra.É nesse terreno instável que o cinema assume um papel inesperado. A chamada Nova Hollywood não surge como rebeldia romântica, mas como sintoma. Filmes sombrios, personagens deslocados, narrativas sem redenção. O herói clássico dá lugar ao indivíduo ferido, confuso, frequentemente violento ou apático. Não se trata de denúncia programática, mas de espelhamento. A tela reflete o mal-estar coletivo com honestidade incômoda.
Morgan Neville constrói o documentário como quem observa um organismo em crise. Depoimentos se entrelaçam a imagens que já não funcionam como entretenimento, mas como documento histórico. O cinema deixa de ser fuga e passa a ser diagnóstico. E talvez aí resida o desconforto maior: em vez de oferecer respostas, aquelas obras ensinaram o público a conviver com a dúvida.O filme também evidencia, ainda que de forma indireta, a força quase incontornável da cultura americana como linguagem global. Mesmo em colapso, os Estados Unidos narram o próprio fracasso de maneira tão eficiente que o transformam em referência universal. O mundo assiste, aprende, imita. A crise vira estética. O desencanto torna-se produto exportável.Há algo de profundamente atual nesse movimento. A alternância entre períodos de crítica intensa e momentos de restauração moral não é acidente histórico, mas método. O documentário sugere — talvez sem assumir plenamente — que a fratura dos anos 1970 preparou o terreno para o retorno de discursos que prometiam ordem, mérito individual e conforto simbólico. O colapso não foi resolvido; foi administrado culturalmente.
A fragilidade de 1975: O Ano do Colapso não está no que mostra, mas no que centraliza. Ao tratar aquele ano como epicentro absoluto, o filme ignora que o mundo também colapsava fora do eixo americano. Ditaduras agonizavam, impérios coloniais ruíam, regimes eram questionados. O colapso era global, mas a narrativa permanece local. Até na crise, o centro insiste em se ver como centro.Ainda assim, o documentário cumpre um papel relevante: revela que a história não avança em linha reta. Ela retorna, testa, repete. O que hoje chamamos de guerra cultural já operava ali, ainda sem nome, disputando símbolos, afetos e sentidos. As ideologias não desaparecem; trocam de máscara. O cinema apenas registra o instante em que a engrenagem muda de marcha.No fim, 1975: O Ano do Colapso não é um filme sobre nostalgia nem sobre denúncia. É um alerta discreto. Mostra que o colapso, quando bem narrado, deixa de ser trauma e passa a ser modelo. Cabe ao espectador decidir se reconhece o mecanismo ou se aceita, mais uma vez, caminhar sobre os escombros como se fossem chão firme.Está disponível na Netflix.
Qual é a sua reação?
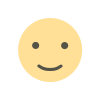 Como
0
Como
0
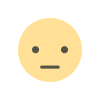 Não gosto
0
Não gosto
0
 Amor
0
Amor
0
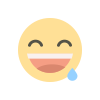 Engraçado
0
Engraçado
0
 Nervoso
0
Nervoso
0
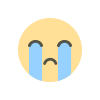 Triste
0
Triste
0
 Uau
0
Uau
0